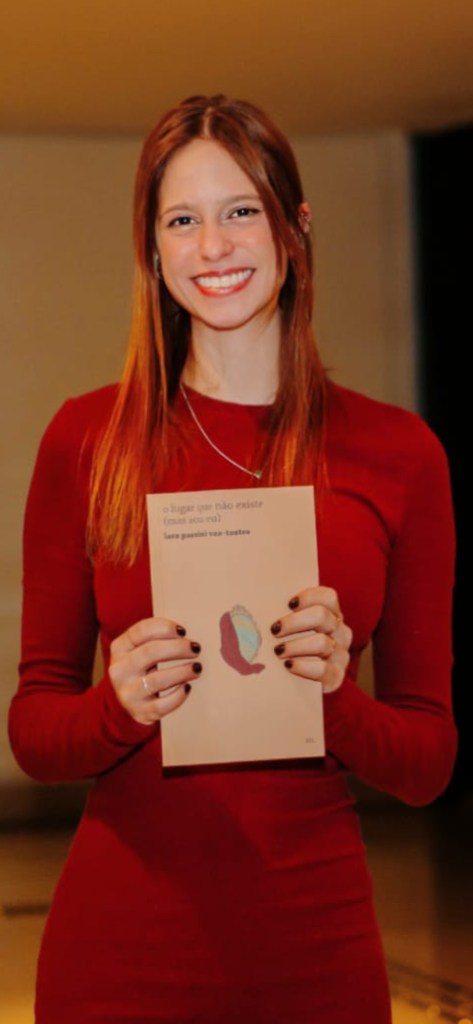Veio antes da linguagem.
Não era nome.
Era denso. Era dentro.
Morno.
Ela não sabia se era parte de si ou um corpo alojado. Mas pulsava como se fosse dela.
Sem utilidade.
Sem finalidade.
Com função.
Ela não o chamava. Mas sentia quando acordava — porque a respiração vinha torta.
A pontada não era dor. Era lembrança de que ainda havia carne.
Um gosto de metal atrás da garganta.
Uma lágrima que não saía.
Um grito que se dobrava em silêncio.
Ela pensava, às vezes, em tirar.
Abrir o peito, puxar com as mãos, dizer: aqui, olha — é isso que não sei mais guardar. Mas e se desmanchasse? E se ele não tivesse forma fora? Se tudo fosse ar coagulado, e ao romper, virasse vazio?
Guardou.
Não por medo.
Mas por saber: há coisas que, se entregues, não aliviam — dissolvem.
Então deixou estar.
Escreveu, um dia, quase sem querer: “tem algo em mim que pesa, mas prova que ainda estou.”
Dobrou o papel.
Guardou também.
No mesmo lugar.
E respirou.
Pouco.
Mas inteiro.